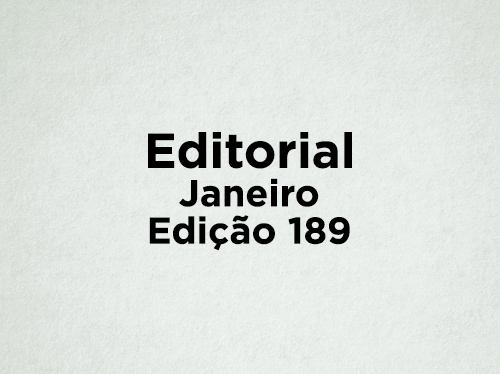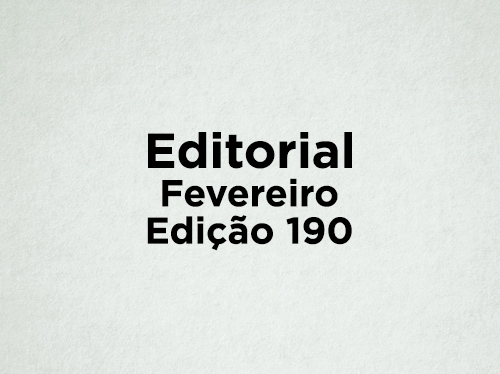“Há uma má-fé, uma impostura, um partido que aposta na burrice, na ignorância. É muito difícil você argumentar ou escrever neste mundo”, diz o escritor Bernardo Carvalho, convidado do Navegar é Preciso em 2018
*Entrevista publicada na revista Vila Cultural 162 (outubro/2017).
“Hoje, no Brasil, não vejo perspectivas de resultados positivos – pelo menos tão cedo – de uma espécie de luta contra a ignorância e contra a burrice. Temo que a gente esteja no início de um processo maior. Sou um pouco pessimista”, diz o escritor Bernardo Carvalho ao compartilhar pontos de vista sobre a sociedade brasileira em 2017. Na Flip desse ano, ao falar de seu processo criativo, dizendo sinceramente que não se preocupa nem com as expectativas do leitor nem com as demandas do mercado editorial quando escreve, Carvalho se viu no centro de uma polêmica (ou patrulha) que se transformou no melhor exemplo e na demonstração prática – e assustadora – do que ela chama de uma realidade “normativa, sem espaço para a reflexão ou para o debate”. “Há uma má-fé, uma impostura, um partido que aposta na burrice, na ignorância. É muito difícil você argumentar ou escrever ou ser recebido neste mundo”, afirma o escritor em entrevista exclusiva à Vila Cultural.
Aos 56 anos, com mais de uma dezena de livros publicados, Carvalho lançou no ano passado o romance Simpatia pelo demônio, em que o personagem Rato, funcionário de uma agência humanitária, é designado para tentar libertar um refém de um grupo extremista islâmico. Ainda que esteja capacitado profissionalmente para negociações e para mediações de conflitos com terroristas, ele se vê, na vida pessoal, persuadido e envolvido em situações perversas ao se apaixonar por Chihuahua, um estudante mexicano que conheceu em Berlim. Passa a lidar com a aceitação do mundo sem regras criado por um relacionamento desigual. É, como diz Carvalho, mais uma história da sua “literatura suja”, contaminada pela realidade do mundo contemporâneo, sem temer percepções em todas suas camadas.
Carvalho já publicou, pela Companhia das Letras, Aberração, Os bêbados e os sonâmbulos, O filho da mãe, As iniciais, Medo de Sade, Mongólia, Onze, Reprodução, O sol se põe em São Paulo, Teatro e Nove noites, em que resgata a história do antropólogo americano Buell Quain, que se matou, aos 27 anos, enquanto tentava voltar para a civilização, vindo de uma aldeia indígena no interior do Brasil. O escritor, que trabalha atualmente em um novo romance, também é colunista do jornal Folha de S. Paulo e um dos autores convidados para a edição 2018 do projeto Navegar é Preciso. Carvalho nos concedeu a seguinte entrevista:
Vila Cultural. Como será o próximo romance?
Bernardo Carvalho. É a retomada de alguns pontos que estavam no Nove noites e que não foram desenvolvidos no livro. Tem a ver com uma relação de pai e filho, numa história meio trágica, que envolve Brasil central, Mato Grosso, Amazônia. Mas está muito incipiente e estou tendo dificuldade para escrever. A situação no país está complicada. Todo dia eu acordo, leio o jornal, me irrito e às vezes acabo estragando o dia por isso. Resolvi dar uma acalmada, deixar o livro um pouco parado e aproveitar para fazer outros projetos, roteiros para cinema, e ler. Daqui a pouco volto para o romance.
VC. Se sente pressionado numa circunstância assim?
BC. Para mim, é numa boa. Ninguém está me pedindo nada. Fora que o Brasil é um lugar em que, no geral, as pessoas não leem muito. Ou seja: publicar um romance, ainda mais o tipo de romance que tenho vontade de escrever, é meio dar murro em ponta de faca. Não é uma coisa que está inserida na realidade. Não há uma demanda da sociedade. Isso é curioso porque acaba sendo um trabalho de autoconvencimento permanente. Mas se agora não estou concentrado o suficiente para terminar esse livro, tudo bem. Deixa para daqui a pouco. Não existe no Brasil, pelo menos para o tipo de literatura que eu estou interessado em fazer, uma demanda externa. Não é como um Ian McEwan na Inglaterra, que é uma boa literatura com um público espetacular. Isso no Brasil inexiste. Diferentemente de países muito educados que também estão vivendo processos de crise literária, mas em que há sempre um mercado, uma demanda externa.
VC. No livro mais recente, a crise da meia-idade é uma questão importante.
BC. Não sei se acontece com todo mundo, mas curiosamente comigo aconteceu como um clichê. Quando você é jovem e começa a fazer uma coisa, tem uma série de ilusões que permitem dizer: “o que eu não fizer hoje, faço daqui a pouco, no futuro. Hoje eu sou uma promessa como escritor, como artista, não importa, e tenho uma vida pela frente.” Só que chega uma hora em que o que você tinha para mostrar, já mostrou. Você vai continuar fazendo, mas você já fez algumas coisas. E há vários perigos nesse momento de transição. Um deles é o ressentimento. De repente, você pode ficar irritado com uma realidade para a qual você é menos interessante do que quando era uma promessa. E outro risco é você começar a viver do passado, da administração do que já fez, e abrir mão do que tem por fazer. Querendo ou não, isso é um clichê, mas é um momento da meia-idade, na qual ainda estou. Como eu lido com isso? Primeiro, assumindo que é uma luta constante para não cair no ressentimento, que é um lugar podre, que não leva a lugar nenhum e, na verdade, acaba sendo um outro tipo de ilusão, uma “ilusão do mal”, meio invertida, o que também não é uma realidade. É uma condição meio paranoica, que tem a ver com momento pessoal, com a subjetividade.
VC. A realidade brasileira amplia essa percepção.
BC. O Brasil é um país muito pouco educado, cheio de falhas estruturais e adiamentos. E a educação é um processo de longo prazo que não desperta o interesse dos políticos porque não vai contar na ficha deles. Numa situação como essa, o risco da burrice, da ignorância e da facilidade de elas tomarem conta é muito perigoso. É difícil lutar contra porque a educação não vem naturalmente. A educação é antinatural, demanda um esforço. Ler também é uma experiência antinatural, que depende de esforço. Até você abrir aquela porta que faz entender qual o prazer, a alegria, o gozo e felicidade da leitura é um grande esforço. No momento em que há, em contrapartida, certo hedonismo da burrice e da ignorância, as pessoas se agarram naquilo. E a internet e as redes sociais facilitaram muito porque o cara que tinha dificuldade para fazer esse esforço – da educação ou da leitura – encontra pares muito mais facilmente do que ele encontraria antes. Isso facilitou um “partido da ignorância”, um “partido da burrice” e esse hedonismo em torno disso é como se o cara pudesse jogar a toalha e dizer: “eu não vou fazer nenhum esforço civilizatório, vou viver na burrice, na ignorância, no moralismo”. Às vezes fico pensando como é que eu reagiria a essa situação se fosse jovem no Brasil neste momento. Talvez fosse muito mais guerreiro ou saísse gritando na rua com muito mais facilidade do que eu faço agora.
VC. E como reage?
BC. Você tem uma espécie de desilusão dos efeitos que esse tipo de militância pode dar. Já vi e participei de um monte de militância – que tem, sim, diversos efeitos importantes –, mas é como se agora houvesse um cansaço. Nessa hora, você precisa lutar contra a desilusão e também contra o cansaço. É um processo de autoconvencimento constante e muito mais intenso do que quando você é jovem. É como se dissesse: vou fazer a despeito do efeito, ou seja, vou continuar gritando e militando pelas coisas que acredito, a despeito dos resultados, que não virão imediatamente. E hoje, no Brasil, não vejo perspectivas de resultados positivos – pelo menos tão cedo –, de uma espécie de luta contra a ignorância e contra a burrice. Temo que a gente esteja no início de um processo maior. Sou um pouco pessimista. Espero estar errado. Mas olho e tenho essa sensação. Fazer literatura nessa circunstância é mais difícil, é um mundo mais disperso. A luta contra a dispersão é muito mais esforçada. Tem que ser muito mais tenaz. Mas tudo bem. Não estou reclamando. Tendo talvez a ser mais discreto, a me recolher mais para um lugar em que fazer literatura já é uma luta. Escrever um livro já deveria ter uma consequência. Preciso acreditar nisso, inclusive que escrever já é um ato político.
VC. Qual o seu propósito?
BC. O esforço é muito grande para manter uma integridade – que não é uma pureza minha –, porque estou atravessado pela realidade, pelas minhas relações com o mundo. Gosto de uma literatura que é “suja”, não necessariamente pela escrita, mas por estar contaminada pelo mundo, pelo presente. Não sou um purista, um acadêmico, não escrevo uma literatura academicista. Mas acho que você tem que ter uma relação com o outro que é uma relação de não complacência, de não abrir mão das coisas nas quais você acredita só porque há um mundo novo, que demanda outra coisa.
VC. Por falar nisso, como se deu a polêmica na Flip?
BC. Quando falei “foda-se o leitor”, na Flip, isso teve uma grande repercussão, mas essa ideia é o princípio da literatura. É o princípio da arte. Porque se você dançar conforme a música, você não está fazendo literatura, você não está fazendo arte. O problema é esse: não estou atacando nenhum leitor, não estou dizendo que não quero leitores, não é isso. As pessoas se ofendem pessoalmente. Mas a ideia é outra: que tipo de literatura você quer? Você quer dançar conforme a música ou criar uma nova música, apresentar uma nova realidade? O que faz parte desse momento é uma relação com o outro que é mais reflexiva, é uma relação de debate. O outro pede uma mesa cor-de-rosa. E você pode dizer: “cor-de-rosa eu não vou fazer. Vou fazer uma mesa, mas a minha mesa é assim”. E esse embate cria uma possibilidade de reflexão. O que me parece que está acontecendo agora é que tanto a direita como a esquerda, com as polarizações, têm uma espécie de criações de regras a priori. Para tudo. Tanto na política das identidades como no aspecto conservador, acadêmico, direitista e tudo mais. Você tem que fazer porque é assim, como se houvesse uma visão do mundo totalmente normativa, que eu acho que tem a ver com essa lei do menor esforço porque é o mundo da não reflexão. Se é pró-gay, pró-negro, pró-feminista, é bom, em princípio e a priori. É bom, ok. Em princípio, sim, eu concordo. Sou pelas cotas, pelas políticas de identidade e tal. Mas quando chega no terreno das artes e da literatura, não é só preto e branco. É cinza, é estranho, é intermediário, tem que ser reflexivo. E aí demanda uma entrada nesse lugar em que a verdade não é única, é dupla. Toda verdade tem no mínimo dois lados. Isso é algo insuportável para as políticas normativas, para a criação de regras a priori. É ruim para todo mundo, mas é especialmente ruim para as artes em geral. E acho que esse mundo polarizado, com readventos do fascismo e coisas assim, tem uma reação da esquerda que também não é muito inteligente e que não permite muita reflexão, porque a reflexão fragiliza. A reflexão abre flancos. E aí tem a má postura da direita, que parece ser uma hegemonia, que me parece ter vindo com a internet, as redes sociais e esse partido da burrice e da ignorância, que joga justamente com o combate à reflexão, que supõe vulnerabilidade. É tiro. Ou seja: o cara vai para o debate, mas ele não vai para debater, ele vai por uma palavra de ordem porque se debater, perde. Para mim, para as artes e para literatura, é um contexto muito ruim. Você vai num lugar, fala “foda-se o leitor” e cai como uma luva no terreno fértil em que a reflexão não interessa. O interessante é o tiro. A gente não precisa entender o que este cara está dizendo, porque o interessante é o escândalo desse cara me xingando com “foda-se”. Há uma má-fé, uma impostura, um partido que aposta na burrice, na ignorância. É muito difícil você argumentar ou escrever ou ser recebido neste mundo. Que recepção é essa num mundo que vai se endurecendo, se emburrecendo?
VC. Estamos perdidos.
BC. Há uma desautorização constante da crítica, que perdeu o lugar. As pessoas não leem. As pessoas não estão a fim de refletir. Até na educação, me parece que o interesse maior é por táticas de ensino, o que é mais pragmático. É como se o mundo estivesse se reduzindo a essa ação-reação não reflexiva. É muito difícil para você, nesse contexto, inserir uma literatura que tem várias camadas, que propõe vários tipos de interpretação, o debate, a reflexão. Não é um tanque de guerra. Ela não está saindo atirando. Ao contrário, está propondo situações, ideias, reflexões. Outra coisa que ficou clara para mim é que não existe inteligência individual. A inteligência é coletiva e você depende do outro para ser inteligente. Não existe essa história de ser inteligente sozinho. E por isso que é complicado nessa história de “foda-se o outro”, num certo sentido. É você conseguir combinar a sua integridade, que é sua, com um estar num mundo do qual você depende para se alimentar. Se o debate a minha volta vai se emburrecendo, eu vou emburrecendo junto com ele. Ou seja, quanto pior o país ficar, pior vão ser as cabeças neste país. Isso é complicado. Aí, o que me dá um pouco de raiva é a inércia dos que teriam a capacidade de propor uma inteligência, mas abrem mão disso em nome de um oportunismo para poder ter um lugar ao sol nesse mundo do embrutecimento e do emburrecimento.
VC. Como observa isso?
BC. Vejo muito gente escrevendo em jornal, por exemplo, que eu sei que são pessoas que não acreditam naquilo que estão dizendo, mas dizem porque existe um terreno fértil para que aquilo floresça hoje. Do mesmo jeito, acho que a avaliação das artes e da literatura empobreceu muito por oportunismo. As pessoas evitam reagir a uma arte mais burra, mais direta, mais moralista talvez. Por isso acho que o risco das políticas de identidade é justamente cair na burrice de um moralismo do bem. Aí, acho que da parte da crítica é uma covardia ao não combater esse negócio por puro oportunismo, e para não perder o seu lugar nessa sociedade que é mais moralista, burra, polarizada.
VC. Tudo isso interfere no seu trabalho.
BC. Todas essas dimensões entram em questão quando escrevo. Como é que dentro desse negócio todo consigo criar uma bolha que me permite continuar fazendo as coisas que quero fazer sem me dissociar desse mundo, porque estou nele o tempo inteiro, mas de maneira que ele não me contamine a ponto de me paralisar ou a ponto de impedir ou de desvirtuar o meu projeto, as posições nas quais acredito, a minha fé. Mas nesse mundo de que estamos falando tudo é muito ambíguo. É o único caminho possível para sobreviver porque ele não me corresponde. Do jeito que está se configurando, pelo menos na aparência ou na hegemonia do que ele aparenta, é um mundo que corresponde cada vez menos às coisas nas quais eu acredito, para as quais eu fui educado. Quando se é escritor, não se vive numa bolha. São questões que me envolvem pessoalmente. Por mais que os personagens sejam escritos em terceira pessoa, por um narrador, há sempre uma identificação. No último livro, o Rato, que é vítima de uma esparrela amorosa, é o personagem com quem me identifico. É aí que tem a ver com violência, com embrutecimento, com imposturas, com um processo de manipulação e de sedução na postura do outro. Tudo isso me interessa porque no tipo de sociedade em que estamos vivendo, cada vez mais esse recurso está muito aparente. Essa espécie de cooptação do outro, uma tática do pré-fascismo.
VC. A questão do gênero tem alguma relevância na história, já que é uma relação gay?
BC. Acho que não. Mas é algo estranho. Porque um dia um professor que leu o livro veio me dizer que havia uma perspectiva feminina no personagem do Rato. Era como se o homem não se apaixonasse. Acho que a questão é outra: basta você se apaixonar para ficar vulnerável, pouco importa se você é homem, mulher, hetero, gay, transgênero. É do humano. No livro, me interessa muito essa ideia de um cara que vai ser vítima entre aspas – porque às vezes a vítima também é o algoz e vice-versa.
VC. É um vínculo perverso o dos personagens…
BC. A relação amorosa perversa tem muito a ver com esse momento. Um mundo de impostura, de pós-verdade, de oportunismo. Não é uma tese que eu tinha na cabeça e queria ilustrar com o livro, mas era algo que estava sentindo como um homem de meia-idade, que quer renovar a vida. Nunca tinha pensado tanto na morte como eu penso hoje. Isso cria em você um monte de estratégias, de renovação, de renascimento.
VC. Começaria tudo outra vez?
BC. Eu adoro o lugar que estou. Se parar para pensar, já vivi pra caramba, fiz um monte de coisas que adorei ter feito. Se pudesse voltar e nascer de novo, eu nasceria mil vezes. Adoro estar vivo e adoro minha vida. Mas é um momento de crise e é uma segunda adolescência. Estava tudo aparentemente certo e de repente o negócio se desestabiliza completamente e você tem que se reposicionar, agarrar um lugar em que você possa estar de novo. É um momento muito rico. Mas estou falando a posteriori. Quando fiz 50 anos até o momento em que escrevi esse livro, passei por um período esquisito, de reconfiguração, para saber como fazer os meus valores sobreviverem – ou não. Tem um curto-circuito que a figura do Rato no livro representa muito bem.
VC. Como observa literatura e velhice?
BC. Fico encantado com o escritor senil que insiste em escrever a despeito da reputação que ele possa estar jogando no lixo. Isso pra mim é incrível. É de uma beleza trágica do humano, meio O anjo azul (o filme dirigido por Josef von Sternberg e estrelado por Marlene Dietrich, com roteiro inspirado numa história do escritor Heinrich Mann), em que velho que vai para o puteiro e perde a reputação por paixão, por tesão, por loucura por aquela mulher. Isso para mim é fascinante. É estar vivo. Porque ele deve ter passado por essa questão, por exemplo, diante da perspectiva de ser um acadêmico, ou seja, “agora eu vou administrar a minha reputação e todo o respeito que me devem ou vou continuar vivo a despeito do que você vai passar com a derrocada, a decadência”. Acho isso muito bonito. O cara que conquistou um lugar e continua escrevendo mesmo que esteja todo mundo dizendo que aquilo é uma merda. Ele não está nem aí para reputação. Tem algo de coragem, de estar agarrado na vida. Eu acho lindo. Fico emocionado.
VC. Por quê?
BC. Você não pode cair na armadilha de temer se arriscar. O que você já vez não significa uma conquista. É um pouco você se agarrar na vida, continuar fazendo. “Foda-se o leitor”, assim, é foda-se a uma demanda que é restritiva, que é a reprodução do mesmo. E foda-se a minha reputação. Isso é superimportante para qualquer artista. É aquele cara que independentemente do que já conquistou decide fazer um outra coisa. Não vai no caminho certo porque é sempre arriscado. Isso é estar vivo. Estar disposto a correr o risco de ser ridicularizado o tempo inteiro. Não existe vida sem risco de vida, que é uma expressão linda que não existe mais porque no jornalismo agora é risco de morte.