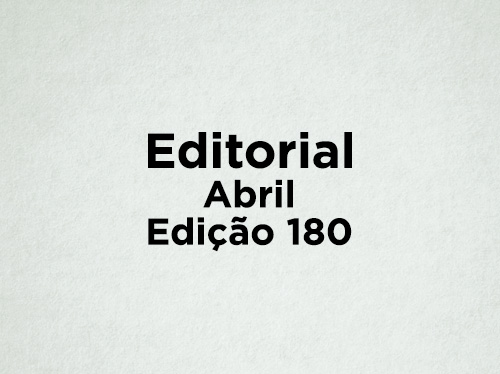Em Tudo pode ser roubado, seu primeiro romance, Giovana Madalosso dá voz a uma ladra boêmia e urbana

Se pudesse, a roteirista e escritora Giovana Madalosso queria ser três Giovanas só para conseguir se dedicar aos diferentes projetos de livros que, entre outros trabalhos, a mobilizam atualmente. Pode ser, como ela diz, que os livros nem saiam, mas trata-se de uma referência bastante significativa sobre a energia e disposição de Giovana para a literatura. Ela acaba de publicar seu primeiro romance, Tudo pode ser roubado (Todavia), e já tem outro em produção.
A escritora vive o fascínio e a paixão de se entregar ao texto e aos leitores, que, por causa de seu primeiro livro, A teta racional (Grua Livros), de contos, reconheceram nela uma voz feminina e feminista pronta para dar ritmo e fôlego a ideias impregnadas de autoficção, humor e um gosto evidente pela linguagem e fluência mais coloquiais. Não é pouca coisa.
No romance de estreia de Giovana, a narradora é uma ladra que trabalha como garçonete num restaurante na região da avenida Paulista e cuja maior ambição é comprar um apartamento. Enquanto o sonho da casa própria não vem, ela usa todo o seu charme e sua habilidade para outros fins. Além dos prazeres fugazes do sexo, das drogas e da noite, rouba roupas de grife e objetos de valor de homens e mulheres com quem se envolve casualmente. Isso até o dia em que outro vigarista cheio de estilo e más intenções a aborda com uma proposta irrecusável: ganhar uma bolada para roubar a primeira edição (de 1857) de O Guarani, de José de Alencar, arrematada por um professor que recusa terminantemente a se desfazer da preciosidade.
É uma aventura urbana que junta um milionário excêntrico, uma personagem transgênero, Bar Mitzvahs de luxo e, no final das contas, um enorme vazio numa cidade animadíssima, em que as identidades profissionais omitem autênticos buracos existenciais.
Paranaense de Curitiba, Giovana é formada em jornalismo, trabalhou como redatora publicitária, é apaixonada por São Paulo, onde vive, e concedeu a seguinte entrevista à Vila Cultural:
Vila Cultural. Você gosta de entrevistas?
Giovana Madalosso. Gosto. Porque gosto de falar, de conversar. Sou daquelas que vão num almoço e fecha o restaurante. Além de gostar de bater papo, a entrevista tem a ver também com uma possibilidade de elaborar o que penso sobre o meu trabalho, porque ao escrever você não fica elaborando muito. Na verdade, com as entrevistas, você começa a perceber inclusive as suas próprias características.
VC. Como começou sua história com o texto?
GM. Escrevo desde que me alfabetizei e acho que desde sempre eu quis ser escritora. Fui parar no jornalismo porque achei que era um “lugar” em que eu poderia escrever, e às vezes até me arrependo de não ter cursado Letras, que também seria um bom caminho. Mas venho de uma família superconservadora, que já na adolescência não gostava muito do meu projeto de ser uma escritora, que, na visão deles, não é profissão porque não dá dinheiro.
VC. Como lidou com essa resistência?
GM. Cheguei a trabalhar como garçonete no restaurante da família e sei que nunca poderia ter construído essa personagem do livro sem tudo que aprendi por lá. Mas eu nunca gostei, inclusive porque sempre fui da boemia. Chegava de madrugada nos finais de semana e tinha que estar lá no restaurante, atendendo bem as pessoas. Por isso minha carreira no restaurante não deu muito certo.
VC. Como descobriu a noite?
GM. Antes de ser boêmia, fui bailarina clássica, e nessa época não dava para sair. Tinha uma vida muito regrada. Depois que entrei na faculdade, conheci a noite e não saí dela nunca mais. Gosto da noite por muitos motivos. Por causa da música, que me faz frequentar muitos shows, pelo ambiente cultural. Frequentei o ambiente underground curitibano e isso também tem a ver com a escrita, porque, aos 16 anos, já tinha um fanzine para o qual entrevistava bandas da cidade. A noite está em tudo pra mim.
VC. Por isso decidiu viver em São Paulo?
GM. Desde criança, dizia que queria morar numa cidade 24 horas e não me pergunte de onde tirei isso. Aos 18 anos, já tinha um domínio muito grande sobre Curitiba, conhecia todas as possibilidades que existiam ali e queria conhecer coisas novas. Fui estudar roteiro de cinema em Nova York, onde acabei ficando um ano. Trabalhei como garçonete, o meu métier secundário. Ao voltar para Curitiba, o desconforto que já tinha com a cidade se aprofundou. E São Paulo foi então a cidade 24 horas da qual eu falava na infância. Amo São Paulo, apesar de não achar que seja uma vida fácil. Tem horas que é difícil porque tenho uma filha e não tenho uma estrutura familiar aqui. Sempre falo muito do isolamento urbano, porque há um tecido urbano que acaba nos isolando de várias maneiras. Apesar de tudo isso, do trânsito, de ser uma cidade feia, acho que São Paulo tem um capital humano muito forte, que não existe em lugar nenhum do Brasil. Acho maravilhoso como São Paulo abraça quem chega aqui.
VC. O que escreveu antes do livro de contos?
GM. Escrevi muita coisa. Tenho um livro infantojuvenil, um romance que escrevi quando tinha uns 29 anos. Está tudo guardado em algum lugar. Depois dessas obras que não foram publicadas mas que me ajudaram a descobrir minha voz, também escrevi sobre universos que não eram meus. E não deu muito certo. O nascimento da minha filha, Eva, me jogou em algum lugar que me fez pensar na condição feminina de um jeito intenso, porque tinha muito pra falar a respeito. Outra coisa interessante foi que quando Eva nasceu, ela me trouxe um grau de urgência que me fez entender que eu não podia mais ficar apenas refletindo.
VC. Como reconheceu seu instinto materno?
GM. Nunca sonhei casar ou ter filhos, mas gosto de experiências e pensei: essa é grande experiência que posso ter, a grande viagem, a grande trajetória. Se tenho oportunidade de viver isso, vou viver. Como todas, sou uma mãe imperfeita, que se debate muito para dar conta do negócio como um todo. A conexão que estabeleço com a minha filha se dá mais pelo humor, já que sou uma pessoa engraçada e temos uma relação de fazer as coisas brincando, de resolver os problemas assim. Penso que toda mãe sempre acha algum tipo de canal. Esse é o meu.
VC. Como teve a ideia para Tudo pode ser roubado?
GM. O livro veio em duas partes. Há uns dez anos, de férias em Lisboa, entrei num sebo, um alfarrabista, e comecei a observar os preços. Quatro, cinco mil euros. Depois, entendi que havia obras de 400, 500 mil euros. Fiquei tão fascinada que até guardei os catálogos daqueles alfarrabistas e pensei que um dia usaria aquilo. Quando terminei o livro de contos, decidi fazer algo menos autoficcional, com uma narradora que não fosse mãe e que não tivesse muito a ver comigo. E olhando os meus contos achei essa ladra, que é ótima. Mas pra fazer um romance precisava que ela roubasse algo maior, não só os pequenos objetos que ela rouba no conto. Ou seja, tantos anos depois, lembrei dos livros raros e foi muito legal porque eu tinha curiosidade para saber quem eram as pessoas que compravam, que negociavam aquilo. Outra coisa que sempre me intrigou, por exemplo, foi a história de que esses livros às vezes não podem nem ser tocados, de tão deteriorados. É diferente de um quadro, uma obra de arte, que você compra e fica olhando para ela. Quem compra um livro de 100 mil euros sabendo que nem vai poder tocar nele? Assim, a criação do livro me deu a oportunidade de visitar essas pessoas que negociam livros em São Paulo. E foi ótimo.
VC. Fala-se muito nos desafios do primeiro romance. Para você não foi difícil?
GM. Penso que existe uma lenda em torno do romance ou de passar do conto para o romance, que seria um salto muito difícil e tal. Não estou falando que é fácil, mas não acho que seja tão difícil quanto parece. Pelo menos no meu caso. Quando estava escrevendo contos, me sentia bem mais confortável nos contos longos. Tinha textos tão longos que nem cabiam num livro de contos. Não era nem conto nem novela nem romance. Ou seja, já sabia que tinha uma natureza de romancista por me sentir melhor na narrativa longa. Não tive crise nenhuma nesse sentido. Foi fácil. Ter ideias, muitas ideias, talvez por ter trabalhado com propaganda, é uma característica que me ajuda na feitura de um romance.
VC. De onde vem o seu interesse pela questão de gênero?
GM. Vim de uma educação muito conservadora, uma família italiana tão tradicional que as mulheres não tinham nem que ler, porque ficar lendo muito significava não arrumar marido. Esse ambiente machista dificultou muito a minha vida em vários âmbitos, desde a supressão na vida profissional até questões de afetividade e vida pessoal. Eu trouxe dentro de mim essa semente como algo que precisava ser urgente. Ao ser mãe, imediatamente você pensa que precisa criar a sua filha para outro mundo, para que ela não passe por tudo que você passou. O machismo é algo muito sinistro inclusive por ele estar presente em várias esferas e ser difícil de identificá-lo em alguns casos, até por envolver laços afetivos, pessoas que você ama, que estão muito próximas de você, mas que estão imprimindo isso às vezes sem sentir. A ponto de prejudicar até os homens, eu acho. Me interessa conversar sobre isso. Para mim, foi uma feliz coincidência viver um momento pessoal assim junto com essa Primavera Feminista que apareceu mais ou menos no mesmo momento. Quando eu escrevi A teta racional, as coisas ainda estavam começando a acontecer. Escrevi de uma maneira superintuitiva, e algumas pessoas acham que o livro foi escrito depois da visibilidade feminista atual.
VC. Qual a representatividade da personagem transgênero no livro?
GM. Para conseguirmos fazer mudanças importantes que precisam ser feitas, acho que precisamos repensar o gênero, o padrão, o que pertence à mulher, o que foi impingido socialmente à mulher. Fazer uma descostura do que é feminino. É muito curioso quando você pega personagens como a trans e entende que ela é obrigada a adotar padrões femininos de gênero para se colocar em algum lugar. Quem foi que disse que mulher gosta de salto alto? Mesmo os transgêneros têm que lidar com um padrão pré-estabelecido para se colocar de alguma maneira. E eu acho que para conseguirmos chegar num lugar interessante, que é o lugar do diálogo, temos que fazer um retrocesso, que sei que é utópico, mas que seria uma maneira de tirar todos esses rótulos. Quando a personagem trans diz, no livro, que ela não gosta de ser rotulada de nada, é uma ideia que me interessa, que eu gosto de colocar. Nesse sentido, acho importante citar o livro Problemas de gênero, da Judith Butler, porque foi um divisor de águas na minha vida.
VC. Você imaginou a boa receptividade que o livro parece estar tendo?
GM. Acho que atrai pelo fato de ter uma trama na qual as pessoas se envolvem. Sentia que tinha um livro diferente, curioso. Ele tem uma narradora muito incomum e tenho que admitir que um livro para mim é também um “lugar” onde vou para trabalhar os meus problemas, as minhas angústias, algumas questões como a solidão. Neste caso, da São Paulo que conheci antes da minha filha nascer. A cidade traz esse vazio dos personagens, que é um vazio que eu sentia e via nas pessoas em torno de mim. Todos se batendo para se relacionar, para ter satisfação. Apesar de serem muito bem-sucedidas profissionalmente, as pessoas chegavam em casa para um grande nada. Brilhando durante o dia, mas vivendo um grande vazio, tomando muito remédio, que é uma questão que coloco no livro. A discussão da questão material, de comprar um monte de coisas. Eu trabalhei com o mercado publicitário, em que as pessoas ganham muita grana e trabalham muito. E elas aliviam isso comprando coisas caras, em relações muito perversas, de precisar de dinheiro para comprar tal coisa para ficar feliz, mas aí tem que trabalhar mais. Para mim, a literatura é um lugar de análise. Do mesmo jeito que a psicanálise é outro espaço em que trato das minhas coisas. Só por ter uma narradora diferente, estou abrindo uma perspectiva para discutir o lugar do feminino. Porque também me incomoda a recorrência de algumas questões femininas em muitos livros.
VC. Do ponto de vista da literatura, o que aprendeu na publicidade?
GM. A fluência, o ritmo, que se mantém o tempo inteiro, e também o olhar treinado para escolher uma ideia que renda dramaticamente. Outro aspecto, que não sei exatamente se vem da publicidade, é o fato de o meu trabalho ter uma característica muito imagética. Gosto de pensar em imagens, que é algo que vem do roteiro. O olhar é treinado para decidir, entre várias situações que dizem a mesma coisa, por uma que encha os olhos do leitor. Quase que uma metáfora visual para algumas coisas.
VC. O que é ser feminista em 2018?
GM. É ter a força redobrada das feministas de outras gerações, porque apesar de todo o enorme trabalho que já foi feito ainda tem muita coisa para fazer. É impressionante a quantidade de bandeiras que essa Primavera Feminista carrega. Ser feminista hoje é você aceitar o pluralismo do feminismo porque há várias questões que são urgências: a violência contra a mulher, a questão racial, as diferenças na remuneração do trabalho, entre outras tantas. Significa até respeitar o feminismo da outra mulher, que pode ter prioridades diferentes de uma mulher branca da classe mais privilegiada. É preciso ter um olhar generoso para viver todas essas questões em harmonia e avançarmos juntos. É um trabalho hercúleo pela frente, que vai durar muito anos, e do qual tenho o maior prazer de fazer parte.
VC. Tudo, afinal, pode ser roubado?
GM. Sim, talvez tudo possa ser roubado. Mas talvez a gente não tenha nada de fato. E achar que se tem alguma coisa talvez seja só uma grande ilusão.