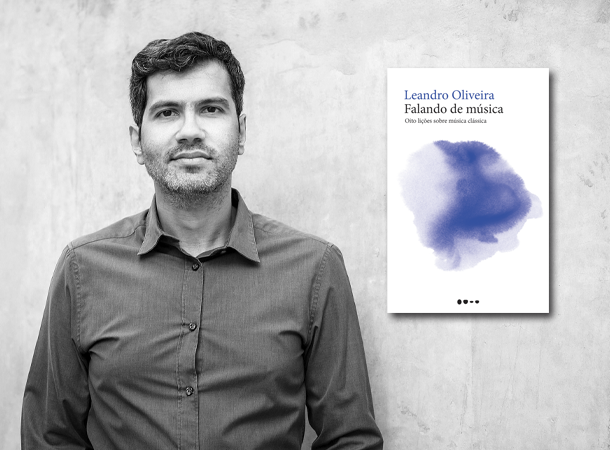Com o fim da Amazônia, índios viram refugiados políticos no novo livro de Joca Reiners Terron
*Matéria publicada na revista Vila Cultural edição 186 (Outubro/2019)

O escritor Joca Reiners Terron autografa seu novo livro, A morte e o meteoro (Todavia), dia 23 de outubro na loja da Fradique. O romance nasceu a partir de um conto escrito sob encomenda para a edição em língua portuguesa da revista Granta, que propunha o futuro como tema. Finalizado o texto, Terron entendeu que a história seguia seu próprio caminho e, como diz, conseguiu concluir o livro graças a uma série de condições favoráveis.
Na trama, com a ficção de alta potência do escritor, há índios anarquistas, insetos alucinógenos e uma percepção apocalíptica que já não parece tão distante da vida real. Com o fim da Amazônia, a tribo dos únicos cinquenta índios kaajapukugi existentes no mundo perde sua terra e sua subsistência e parece caminhar rumo ao desaparecimento. “Cabe ao enigmático Boaventura, misto de indigenista e aventureiro, conduzir os últimos kaajapukugi, na condição de refugiados políticos, a um santuário no México. Mas Boaventura morre subitamente, e o funcionário responsável por concluir o plano se verá em meio a uma conspiração macabra e a um mistério cujos tentáculos se expandem para o passado e o futuro”, diz a sinopse do livro, que involuntariamente faz lembrar as imagens recentes da floresta em chamas.
Dois anos atrás, em 2017, Terron lançou Noite dentro da noite (Companhia das Letras), misto de autobiografia e ficção ao qual ele se dedicou durante pelo menos uma década. No livro, além de compartilhar uma experiência pessoal e familiar determinante, ele agrega uma galeria de personagens que inclui espiões, guerrilheiros, caçadores e pelo menos um monstro da natureza, percorrendo a história recente do Brasil e inserindo a realidade no mesmo caleidoscópio que faz mover o romance incomum e muito comentado.
Terron nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no final da década de 1960. Aos 30 anos, já em São Paulo, fundou a editora Ciência do Acidente, pela qual editou seu primeiro livro, a coletânea de poemas Eletroencefalodrama (1998). Entre outros livros, publicou Hotel Hell (Livros do Mal, 2003), Curva de rio sujo (Planeta, 2003), Sonho interrompido por guilhotina (Casa da Palavra, 2006), Do fundo do poço se vê a lua (Companhia das Letras, 2010) e A tristeza extraordinária do leopardo-das-neves (Companhia das Letras, 2013).
Seu primeiro romance, Não há nada lá, publicado originalmente em 2001, foi reeditado pela Companhia das Letras em 2010. A obra é uma declaração de amor aos livros e à literatura, em que Terron faz alguns nomes-referência das artes se transformarem em personagens. Leia a entrevista que o escritor concedeu à Vila Cultural.
Vila Cultural. Como você fica, como se sente às vésperas de lançar um novo livro?
Joca Reiners Terron. Já publico há 20 anos e me sinto aliviado, porque nessa trajetória toda de escrita, no meio do caminho ficaram diversos livros que não tiveram a felicidade de serem concluídos. Pra mim e para qualquer pessoa que trabalha com criação, não importa de que gênero, é sempre bastante frustrante não conseguir reunir as condições necessárias para terminar algo que se deseja fazer. Então, fico muito feliz por ter conseguido acabar o livro, por ele fazer algum sentido e por ter convencido alguém a ponto de se interessar a publicá-lo. Ou seja: é uma sucessão de felicidades, que nem sempre acontecem. Para cada livro que publiquei, tem uns cincos que ficaram em algum estágio de natimortos no meu computador ou nos meus cadernos. Daí que é só alegria.
VC. E a expectativa de como ele será recebido?
JRT. Eu penso assim: a vida pública de um escritor brasileiro, de um sujeito que é amaldiçoado pela sina de escrever em língua portuguesa e publicar em um país com índices de leituras tão baixos como o Brasil, é uma vida pública muito privada. Prefiro me satisfazer com essa felicidade de ter feito, com essa alegria que é muito breve. Logo depois, evidentemente, eu vou esquecer desse livro porque faz parte do processo também. Porque, óbvio, tem uma penca de histórias que desejo escrever, outros projetos com os quais quero me envolver.
VC. Um desafio atrás do outro.
JRT. Se tornar escritor é algo que leva muito tempo, que exige um mergulho particular nas próprias obsessões. Quando digo tempo, não falo dos dias, semanas, meses ou do intervalo para escrever um livro, mas da vida toda. Para descobrir aquilo que te afeta, os temas que te interessam, os que te obcecam. A partir daí, chega um determinado estágio em que o escritor descobre que ele só tem um assunto, que é o tempo que ele vive, que são as coisas que estão acontecendo que nos perturbam, que nos afetam e às vezes nos adoecem. Meu livro anterior, por exemplo, Noite dentro da noite, eu levei dez anos para escrever. Mas nesses dez anos, todo o tempo presente ao longo dos últimos cinco anos afetou a escrita do livro. De alguma maneira, o tempo presente cavou ou exigiu seu espaço no tempo da história que eu tramava. O novo livro, que é muito mais breve que o anterior, também foi muito afetado pelo presente. Foi escrito no final do ano passado, às vésperas da posse do novo presidente da República e de todos os riscos e indícios relacionados à exploração da Amazônia, que culminaram seis meses depois nessas tragédias que se acentuam cada dia mais. Então, o meu tempo sequestrou e exigiu minha atenção e em dois ou três meses o livro saiu, meio abruptamente. Talvez a escrita do livro tenha tido um caráter de urgência em decorrência disso.
VC. Você já disse que não se interessa muito pela banalidade do cotidiano.
JRT. Não sei se foi exatamente isso o que disse, mas quando a gente trata da nossa vida pequena, cotidiana, contraposta a essa onda de autoficção que tem ocorrido, essa pequena vida precisa de fatos extraordinários para se tornar atraente ou pelo menos para despertar a minha atenção. Isso é uma coisa. Outra é que aparentemente a realidade adquiriu a propriedade de imaginar, porque ela nunca foi tão surpreendente. E essa capacidade de imaginação que a realidade adquiriu parece fora de controle ultimamente. Porque as coisas mais inadmissíveis e inimagináveis têm acontecido. Parece que uma antiga suposição de que talvez essa realidade não esteja sob as rédeas da determinação humana realmente fica cada vez mais evidente, está na nossa cara. E outro aspecto que me parece muito claro é o compromisso destruidor que a espécie humana tem diante dessa mesma realidade. E nos deparamos com isso: se a realidade adquiriu essa capacidade, essa imaginação, talvez o novo papel do escritor não seja mais escrever ficção. Eu não me contentaria em descrever essa realidade imaginativa que se impõe, mas eu acho que talvez a gente tenha que criar uma nova realidade. O papel do escritor de ficção talvez seja criar uma nova realidade. E digamos que, por causa do novo livro ou dessa nova “epidemia” da realidade, eu esteja contaminado por uma visão apocalíptica.
VC. Como teve a ideia para A morte e o meteoro?
JRT. Em outubro de 2018, eu recebi um convite para colaborar com a revista Granta, que tem uma edição em língua portuguesa distribuída em Portugal e traz autores brasileiros e africanos, além dos portugueses, e cujo tema era o futuro. Na época, eu já estava rascunhando, pensando em alguma coisa relacionada aos povos isolados porque algum tempo antes havia acontecido um episódio que assombrou muito a minha imaginação. Foi aquele episódio em que um missionário norte-americano foi morto por índios que vivem isolados na Ilha de Sentinela do Norte. O fato de existirem povos isolados já é uma coisa que me assombra diante dessa capacidade interminável de exterminação que o homem branco e o Ocidente têm. Povos isolados me parecem um erro na programação e me assombram de um jeito muito impactante. Então esse episódio ficou vibrando na minha cabeça, e quando a Granta me pediu o texto eu escrevi esse conto, que é o primeiro capítulo do livro. Quando estava de férias, num lugar tranquilo, sem ter que pensar nas necessidades da sobrevivência ou ter outras pessoas me perturbando, eu entendi que a história continuava e deixei continuar, sem muito compromisso e sem entender direito para onde ela iria. E só na medida em que eu escrevia descobri que a história também era sobre o Boaventura, esse sertanista que é uma espécie de protagonista do livro. Simplesmente não me contive e deixei a história continuar.
VC. O que pensa sobre ter que falar de um livro?
JRT. Suponho que tudo que eu tinha para dizer está dentro do livro. Então tudo aquilo que eu acrescentar me parece supérfluo. Mas acho que a partir de qualquer obra de ficção é possível você extrair fios de reflexão, fios climáticos que tocam outros assuntos. Ou você pode usar o livro como um ponto de partida para determinadas discussões. Um livro, afinal, é muito isso: o aspecto mais solitário pressupõe essa conversa, esse diálogo, a partir daquilo que o livro propõe. Em alguns casos específicos, o livro tem uma série de tempos narrativos que não permitem falar muito além daquilo que está apresentado sem revelar excessivamente ou sem afetar um possível prazer que o leitor tenha ao lê-lo. Não dá para antecipar nada além de entender que alguns temas do livro podem ser discutidos.
VC. Como desenvolve outros trabalhos, além dos livros?
JRT. Eu consegui de alguma maneira orientar minha existência em decorrência de assuntos quase todos relacionados aos livros, à escrita de ficção, ao trabalho editorial, ao trabalho com audiovisual, colaborando na escolha de conteúdos de livros que podem ser adaptados. Eu dou aulas e participo de oficinas de formação de escritores, traduzo. Todo o meu trabalho está relacionado ao livro, à palavra. Por um lado, isso é muito bom porque não sou obrigado a fazer qualquer coisa que seja alienígena ao métier. Por outro, é ruim porque não estou fazendo outras coisas que não tenham a ver com o métier. Ou seja: eu sou obrigado a andar muito pela rua, a observar, a falar com as pessoas, para suprir esse trabalho que é muito isolado. Mas tenho a sorte de não ser forçado a trabalhar com assuntos, digamos, de outros departamentos, fora desse campo de atuação. Tem um outro aspecto que é um pouco complicado também: é que tudo isso exige a mesma energia que eu uso para escrever. Significa que eu tenho que criar um esquema que, no meu caso, é acordar cedo e escrever uma, duas horas por dia quando eu ainda não estou contaminado pelo cotidiano, pelas más notícias. Aí, eu escrevo, uso esse tempo, tento ser rápido, e depois eu vou fazer as outras coisas. É uma coisa que tem que ser cuidada com carinho porque se eu não escrevo, não cumpro esse expediente, fico muito mal-humorado, e aí as pessoas que vivem comigo têm que me aturar.
VC. Você sempre compartilha notícias sobre moradores de rua.
JRT. Eu tenho uma espécie de diário sobre os mendigos da Santa Cecília. Tem escritores que nascem em países que podem observar outras coisas. Eu observo mendigos. Eu olho, anoto e talvez algum dia faça alguma coisa com isso. Eu me apego, converso e tal. Isso é inevitável. A gente vive num momento em que a miséria cotidiana está posta. Para quem vive no centro de São Paulo, nos últimos três anos isso se tornou uma coisa terrível porque o número de moradores de rua aumentou de um jeito brutal. É a realidade novamente dando um tapa na nossa cara.
VC. Você consegue ver luz no fim do túnel?
JRT. Aparentemente sim, há luz no fim do túnel. Mas é a luz de uma explosão. Porque diante de composições que estão sendo colocadas por aí, eu acho que a sociedade brasileira precisa reagir, e acho que essa reação, quando acontecer, não será pacífica.